Revistas científicas ou túmulos do saber?
Matéria publicada em Outras Palavras com licença Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual.
Por trás do suposto rigor das publicações “de excelência” pode estar o epistemicídio — a tendência da Academia a sepultar pensamentos dissidentes. Mas há alternativas
Por Alex Martins Moraes
O que a entrega do prêmio Nobel de medicina 2013 e a divulgação dos resultados da avaliação trienal do sistema de pós-graduação no Brasil têm em comum? Além de ambos os eventos terem ocorrido na primeira quinzena de dezembro, eles também convergem, por razões distintas, em outro sentido: representam uma boa oportunidade para repensar e criticar as modalidades vigentes de produção do conhecimento em nosso país.
O biólogo molecular estadunidense Randy Wayne Schekman, que recebeu o prêmio Nobel junto com seus pares James Rothman e Thomas Südhof, aproveitou a visibilidade pública proporcionada pela premiação para instaurar uma forte polêmica com algumas das publicações científicas mais importantes no campo das ciências biológicas. Em coluna publicada no The Guardian um dia antes da cerimônia do Nobel (versão em espanhol publicada pelo El País), Randy Schekman acusou as revistas Nature, Science e Cell de prestarem um verdadeiro desserviço à ciência, difundindo práticas propriamente especulativas para garantirem seus mercados editoriais. Entre estas práticas, Schekman menciona a redução artificial da quantidade de artigos aceitos para publicação, a adoção de critérios sensacionalistas na seleção das colaborações e um total descompromisso com a qualificação do debate científico. Schekman conclui sua intervenção com o seguinte chamado à comunidade científica: “Da mesma forma que Wall Street precisa terminar com o domínio da cultura dos bônus, que fomenta certos riscos que são racionais para os indivíduos, mas prejudiciais para o sistema financeiro, a ciência deve se libertar da tirania das revistas de luxo. A consequência dessa escolha será uma pesquisa que sirva melhor aos interesses da ciência e da sociedade”.
Aparentemente refratária a esse tipo de crítica – que, aliás, vem se tornando cada vez mais comum em todas as áreas do conhecimento–, a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) confere um peso decisivo às publicações em revistas de alto impacto no momento de avaliar o desempenho e a qualidade dos cursos de pós-graduação brasileiros. Para a antropologia, área da qual provenho, a avaliação da CAPES atribui um peso de 40% sobre a nota final à produção intelectual dos docentes de cada instituição. Na prática isto significa que, para atingir os conceitos máximos de avaliação (6 e 7), um determinado programa de pós-graduação deve esperar que todos os seus professores de mestrado e doutorado efetuem – para citar diretamente o roteiro de avaliação da CAPES – “a publicação de resultados de pesquisa, sob a forma de artigos em periódicos científicos, livros e capítulos de livros qualificados, com destacada proporção e média por docente nos estratos A1, A2 e B1 do Qualis Periódicos”. Levando em conta a quantidade de artigos publicados pelos docentes permanentes dos programas de pós-graduação em antropologia mais produtivos no triênio 2010-2012, o “ideal” seria, em média, cerca de duas publicações por ano por docente em revistas indexadas – isto sem mencionar as demais publicações, como livros, capítulos de livros, audiovisuais, relatórios técnicos, etc.
A avaliação da CAPES na área antropologia/arqueologia não leva em conta o fator de impacto das publicações, dado que a maioria das revistas de ciências humanas não dispõe dos meios para quantificá-lo. Neste caso, a classificação dos periódicos nos estratos A1 e A2 exige, entre outras coisas, que eles figurem em indexadores internacionais. Já o estrato B1 requer que figurem em pelo menos dois indexadores, sejam eles internacionais ou não. Outras áreas, como a medicina, adotam diretamente uma classificação elaborada com base na mediana do fator de impacto das revistas, obtidos junto ao Journal Citation Reports (JCR) e calculados anualmente pelo ISI Web of Knowledge. Isto implica o condicionamento da avaliação da produção científica às dinâmicas do mercado editorial internacional, com todas as consequências aventadas por Randy Schekman em seu artigo no The Guardian. Pior ainda, ao aplicar classificações desta ordem, a CAPES enfraquece o próprio parque editorial nacional e favorece uma forma questionável de internacionalizar a produção científica, colocando as revistas mantidas por universidades públicas e entidades de classe em detrimento de periódicos estrangeiros, financiados, em sua maioria, pela iniciativa privada e aferrados aos cânones da propriedade intelectual.
No caso das ciências sociais e humanas, o produtivismo amparado pelas avaliações da CAPES se materializa numa miríade de efeitos preocupantes, alguns deles inesperados. Não me refiro apenas à precarização do trabalho de professores e estudantes ou à perda de organicidade da produção intelectual decorrente da ênfase obsessiva na escrita de artigos e de apresentações para congressos. Talvez o aspecto mais assustador e menos criticado de uma avaliação da pós-graduação inspirada pela ideologia produtivista seja que ela ampara o epistemicídio. O epistemicídio – noção desenvolvida, entre outros, por Boaventura de Sousa Santos – consiste na eliminação ou inferiorização ativa de algumas formas de conhecimento em favor de outras, consideradas mais desejáveis no marco de uma dada estratégia de poder. Por exemplo, a anulação de certos saberes locais, sua folclorização ou deslegitimação pública foi e é uma modalidade de epistemicídio aplicada sobre diversas populações ao longo das experiências coloniais na América, Áfria e Ásia. O produtivismo está a serviço do epistemicídio porque bloqueia ou dificulta seriamente e emergência de outras formas de construção e enunciação do conhecimento em um momento de relativa democratização das universidades públicas brasileiras. Em poucas palavras, o produtivismo compromete a diversidade das formas de fazer ciência e a própria criatividade humana no exato momento em que se converte em critério valorativo hegemônico para a distribuição dos recursos necessários à produção de conhecimento. Ao erigir-se como critério chave de avaliação da relevância da produção intelectual, ele impõe sistemas de hierarquização que só fazem reiterar privilégios epistêmicos de longa data e comutá-los, logicamente, em privilégios político-institucionais. Só as modalidades mais conservadoras e pouco imaginativas de fazer ciência se adaptam, sem grandes problemas, aos atuais imperativos de quantificação. Já os estudos guiados pela co-investigação prolongada e participativa, os amplos panoramas exploratórios, as práticas colaborativas e situadas de escrita científica, etc. não conseguem sobreviver a esses imperativos.
As ciências sociais e humanas hegemônicas, legitimadas pelo produtivismo, marginalizam – ou produzem como inexistentes – outras práticas de produção intelectual; elas impõem seu universalismo abstrato ao pluralismo real dos discursos e das práxis intelectuais vigentes na universidade e fora dela. As instituições encarregadas de produzir conhecimento humanístico manejam orçamentos que, sem serem os mais robustos do sistema universitário brasileiro, não podem, ainda assim, considerar-se insignificantes. Trata-se de orçamentos conformados com dinheiro público acumulado através da cobrança de impostos majoritariamente regressivos a populações empobrecidas. Estes recursos têm sido aplicados, frequentemente, no estímulo de uma dinâmica universitária tendente a afastar estudantes e professores da problematização dos dilemas reais suscitados pela vida democrática em nosso país. Na prática, os chamados “problemas de investigação” acabam sendo inventados nos corredores da academia – ou importados dos debates prestigiosos e “de ponta” do norte global – para serem “resolvidos” no “lado de fora empírico”, com as “pessoas comuns” e depois convertidos em digressões que atendem apenas à agenda editorial vigente no mercado das publicações acadêmicas. Como se não bastasse, o dinheiro público destinado à formação de jovens pesquisadores no exterior é por vezes “investido” na perpetuação da subalternidade epistêmica das academias do sul global mediante editais que reiteram regimes de legitimidade científica diretamente coloniais.
Com a hegemonia da quantificação na elaboração dos sistemas de avaliação científica, cada vez menos a universidade poderá ser concebida como espaço de estímulo ao florescimento de “ciências sociais de outra forma”, baseadas no sentido de responsabilidade e colaboração em pesquisa, no cultivo de vínculos duradouros e qualificados com comunidades e sujeitos e na articulação entre problemáticas investigativas e dilemas socialmente compartilhados. Nossos prestigiosos programas de pós-graduação mais se assemelham organismos autistas, imersos em transe profundo, alheios a qualquer preocupação com a importância social do conhecimento científico. O que parece dinamizar a produção de conhecimento é a própria vontade de produzir racionalizada e eficientemente. Grosso modo: produção pela produção. Eis o círculo virtuoso (ou seria círculo vicioso?) do saber.
O que fazer num cenário em que a quase totalidade da produção de conhecimento promovida pelas ciências sociais e humanas encontra-se submetida a um estandarte geral de avaliação caracterizado pela (in)determinação quantitativa de toda a qualidade? Michael Eisen, professor da Universidade da Califórnia em Berkeley, que reagiu positivamente às criticas levantadas por Randy Schekman nas vésperas da entrega do Nobel, sugere a criação de sistemas alternativos de legitimação das práticas intelectuais. Para ele, todos os cientistas deveriam “atacar o uso das publicações para avaliar os pesquisadores, fazendo-o sempre que possível quando contratarem cientistas para o seu próprio laboratório ou departamento, quando revisarem as solicitações de financiamento ou julgarem os candidatos para uma vaga” (ver matéria no El País). Mais próximos de nós, os estudantes de mestrado em Antropologia Social da UFRGS, que paralisaram suas atividades acadêmicas na primavera de 2011 para questionar o produtivismo e as genealogias institucionais estabelecidas também oferecem uma alternativa: “paremos para pensar”. Esta, que foi a consigna da sua greve, nos alenta com a perspectiva de que a desestabilização da engrenagem produtivista é possível através da conformação de uma ética e de uma prática intelectual alternativa. Ao comentar a greve dos estudantes de Porto Alegre, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos concluiu o seguinte: “O vosso movimento (…) é parte dessa sociologia das emergências, porque é gente que está em busca de uma renovação epistemológica, política e o faz entre si, em pequenos grupos. Certamente os meios de comunicação não noticiaram, certamente não foi útil para o currículo deles ou para o programa de estudos deles, mas estão a emergir outras realidades” (entrevista completa na Tinta Crítica).
Talvez estas práticas “dissidentes” sejam um caminho para explorar novas lealdades e alianças políticas que conduzam a vias alternativas de legitimação da produção intelectual. O desafio, portanto, é erigir espaços profissionais dignos e reconhecidos mais além das aparelhagens institucionais produtivistas, de forma a superar as tentativas de epistemicídio e abrir passagem à proliferação de práticas intelectuais indisciplinadas, ecumênicas e participativas. Assumindo tal postura, corremos o risco de perdermos, num primeiro momento, o aval dos números, dos mercados editoriais e da tecnocracia, mas ganhamos um valioso terreno para construir objetividade e provar a validade dos nossos postulados: a práxis humana. Neste terreno pode vicejar uma ciência sucessora, amparada em novas redes de diálogo em política; uma ciência aberta a programas de investigação nos quais a verdade reside, parafraseando novamente a Boaventura de Sousa Santos, naquele conhecimento “que nos guia conscientemente e com êxito na passagem de um estado de realidade para outro estado de realidade”.
A tarefa parece hercúlea e certamente nem todos os pesquisadores estarão interessados em aceitá-la. Uma coisa, no entanto, é certa: ao desenvolver investigações, emitir laudos de demarcação de terras indígenas, frequentar eventos acadêmicos, escrever textos, produzir imagens, enunciar discursos políticos, etc. os cientistas sociais incorporam e colocam em ato suas disciplinas. E é por esta mesma via que também estão em condições de colocá-las em questão, disputando seus efeitos e funções. Nós podemos, portanto, atuar no registro da reprodução, abastecendo o aparelho disciplinar herdado, ou podemos bloquear a atualização de certas dinâmicas produtivas, exercendo uma reflexão crítica e pragmática a respeito das ferramentas político-institucionais disponíveis à ação transformadora.
Alex Moraes
É antropólogo, realiza estudos de doutorado no Instituto de Altos Estudios Sociales (Buenos Aires) e faz parte da Rede de Antropologia Crítica.
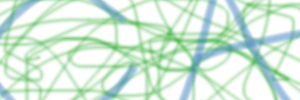


Deixe um comentário